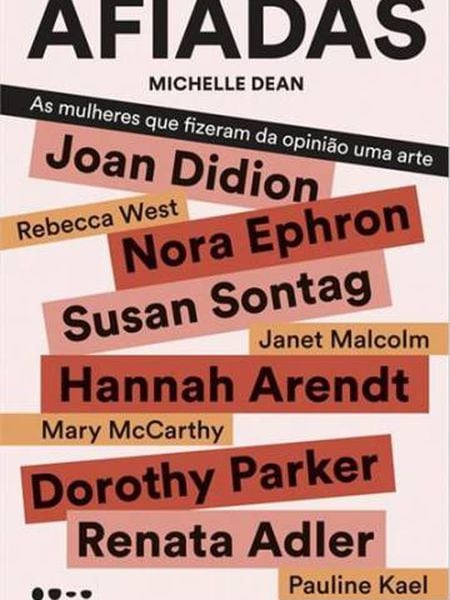Frankenstein, 200 anos moderno
Em 1 de janeiro de 1818 foi publicada uma modesta edição do mítico romance em que uma precoce Mary W. Shelley moldou os dilemas e avanços de sua época
01 de janeiro de 2018 - 15:04 COT
Frankenstein nasceu de algo mais do que o desafio de Lord Byron ao lado de uma chaminé com vista para o lago Léman no verão mais frio do século XIX. Tudo o que foi depositado por Mary Wollstonecraft Shelley na narração que deu à luz um mito universal – inspirador de quase mil obras entre o cinema, o teatro e os quadrinhos – tem relação com as circunstâncias extraordinárias que a cercaram desde que nasceu em 30 de agosto de 1797 em Londres. Ao seu redor o velho mundo havia se fragmentado após várias revoluções. A industrial se encontrava em plena excitação graças ao aperfeiçoamento da máquina a vapor de James Watt. A política digeria a overdose de guilhotina de Robespierre e companhia abraçando a volta da ordem. As ideias e a ciência (ainda chamada filosofia natural) estavam igualmente agitadas, com as teorias de Lavoisier que inauguram a química moderna e as expedições aos polos para se aprofundar no magnetismo. E todas aquelas revoluções tomavam chá em sua casa atraídas por seu pai, o romancista e filósofo radical William Godwin (1756-1836), partidário da abolição da propriedade e contrário a toda forma de governo. O primeiro anarquista.
O próprio entorno doméstico é forjado contrário à convenção. Godwin vivia com sua segunda esposa, Mary Jane Clairmont, e cinco filhos de diferentes origens biológicas no que hoje seria uma moderna família reconstituída. Mary W. Shelley cresce marcada pelo pensamento de sua mãe, a escritora e filósofa Mary Wollstonecraft (1759-1797), que a convida a formar-se como uma cidadã consciente em vez de uma esposa submissa. Uma mãe ausente, cujo túmulo era um local frequente de leitura. A autora transportará sua experiência de orfandade à criatura literária, que espalha dor e morte porque não tem quem a queira.
![Frankenstein [Francia] [DVD]: Amazon.es: Robert De Niro, Kenneth ...](https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/61VMEDAbWdL._SL1200_.jpg)
Em 1792, após o sucesso de um ensaio em defesa da Revolução Francesa, Mary Wollstonecraft publicou Uma Reivindicação pelos Direitos da Mulher, onde exigia a educação às meninas: “Para fazer o contrato social verdadeiramente equitativo, e com a finalidade de estender aqueles princípios esclarecedores que só podem melhorar o destino do homem, deve permitir-se às mulheres encontrar sua virtude no conhecimento, o que é praticamente impossível a menos que sejam educadas mediante as mesmas atividades que os homens”. É considerado o primeiro tratado feminista, paralelamente à Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã escrita pela francesa Olympe de Gouges, decapitada em Paris por querer levar os direitos humanos longe demais.
Se o pensamento de Mary Wollstonecraft era transgressor em si mesmo, sua vida encarnou vários mitos românticos por seus desamores e suas duas tentativas de suicídio. Entre o episódio do láudano e o do rio Tâmisa viajou pela Escandinávia com sua primeira filha, Fanny, e uma babá. Da experiência sairia um livro de viagens que entusiasmou William Godwin: “Se alguma vez foi escrita uma obra com a intenção de que um homem se apaixonasse pelo autor, acho que é essa”. Os dois escritores se tornam amigos, amantes e, por último, cônjuges entre chacotas da imprensa conservadora (Godwin havia se manifestado contra o casamento em escritos públicos). Na quarta-feira 30 de agosto de 1797 nasce a única filha do casal, Mary. A filósofa passou as contrações lendo em voz alta Os Sofrimentos do Jovem Werther, de Goethe, com seu marido. O mesmo livro que no futuro será apreciado por uma criatura de dois metros e meio de altura e lábios negros.
Filha de dois filósofos radicais, os biógrafos sugerem que cresceu com mais pensadores do que afetos
Mary talvez não tenha sido educada como teria desejado sua mãe, que faleceu 11 dias após o parto, mas seu pai estimulou seu intelecto desde o começo. Os biógrafos sugerem que cresceu com mais pensadores do que afetos. “Ela frequentemente sentia-se sozinha e carente de um sentimento de identidade familiar”, diz James Lynn, “as relações com a segunda esposa de seu pai eram pobres, e mesmo que Godwin tenha lhe dado uma boa educação, não deu atenção às suas necessidades emocionais”.
Mary podia ouvir em sua casa o poete Samuel Taylor Coleridge, o inventor William Nicholson e o químico Humphry Davy. Seu pai a levava em conferências sobre eletricidade e para tomar chá com o divulgador do vegetarianismo John Frank Newton. Todo esse magma individual e criativo deixou marcas em Frankenstein: o capitão Walton faz referência a um poema de Coleridge (‘A Balada do Velho Marinheiro’) e o gigante mata, mas é vegetariano. Um velho amigo de Godwin é apresentado no começo do romance: “Na opinião do doutor Darwin, e de alguns fisiologistas da Alemanha, os acontecimentos em que a presente ficção é baseada não são inteiramente impossíveis”

O médico e naturalista Erasmus Darwin, defensor de uma teoria sobre a origem única da vida e avô do autor de A Origem das Espécies, também será evocado em Villa Diodati no frio verão de 1816. Horas antes de Mary ter a visão que alimenta Frankenstein, os poetas Lord Byron e Shelley recordam um de seus supostos testes, como relata a própria escritora: “Ao que parece havia conservado um pouco de massa em um pote de vidro, até que, por algum extraordinário processo, aquilo começou a se agitar com um movimento autônomo. (...) Talvez um cadáver pudesse reviver, o galvanismo deu provas de coisas semelhantes: talvez as partes que compõem uma criatura possam ser construídas, e depois possam ser reunidas e dotadas de calor vital”. A grande pergunta que se faz Victor Frankenstein – “Onde estará o princípio da vida?” – era a grande pergunta da época.
Diante da falta de respostas precisas, os substitutos triunfam. A eletricidade vive seu momento de glória desde meados do século XVIII. As descobertas científicas de Benjamin Franklin, Luigi Galvani e Alessandro Volta convivem com a prestidigitação ambulante. Em seu ensaio Mulheres e Livros, o editor Stefan Bollman recria um popular espetáculo de “aparelhos elétricos”: “Colocavam em funcionamento as rodas de suas máquinas eletrostáticas e enviavam descargas elétricas através das mãos de uma cadeia humana. Suspendiam uma pessoa de tal forma que levitava e faziam com que sua cabeça brilhasse”.

Até mesmo Percy Bysshe Shelley entrou na onda da eletricidade em Oxford, como detalha Charles E. Robinson, principal especialista na obra de Mary W. Shelley, em sua introdução a uma edição anotada para cientistas e inventores publicada em comemoração ao bicentenário da criação da obra: “Construiu sua própria pipa elétrica, fez faíscas saltarem de um aparelho elétrico e até armazenou o fluido da eletricidade em garrafas de Leyden: esses testes servem de base às experiências elétricas do pai de Victor, Alphonse, em Frankenstein”.
Quando é publicado anonimamente em 1818 especula-se com a autoria do poeta Percy B. Shelley
O poeta Shelley também acabaria frequentando a ágora doméstica de William Godwin, atraído pelo pensamento de um filósofo quase mais célebre por controvérsias públicas como a que manteve com Malthus do que por seus densos tratados políticos. Percy também era especialista em controvérsias: casou-se apesar da oposição de sua influente família e acabava de ser expulso de Oxford por fazer propaganda do ateísmo. Mary tinha 16 anos quando foge com ele, mas voltam logo por falta de dinheiro. A partir daí suas biografias alimentam o mito do casal perfeito do romantismo, com uma sucessão de sucessos literários e cadáveres jovens: só um de seus quatro filhos sobrevive e, aos 29 anos, Percy B. Shelley se afoga na Itália. No futuro a escritora se afastará da condição de maldita e se preocupará em obter a aprovação social para ela, seu único filho e o poeta morto.
Mas quando Mary W. Shelley escreve seu relato em 1816 para a competição sobre histórias de fantasmas, convocada por Lord Byron no verão mais frio do século, tem somente 18 anos, um bebê vivo e outro morto, e uma relação escandalosa que acabará com o suicídio da primeira esposa de Shelley. Ignora que está forjando um mito universal e que, naquela família onde só contavam os que tinham méritos literários, ultrapassará a popularidade de todos eles.

Em 1 de janeiro de 1818, quase dois anos depois da estadia no lago Léman, é publicado Frankenstein ou o Prometeu Moderno com uma tiragem de 500 exemplares. Não tem assinatura. A mão de Percy B. Shelley (que fornece correções ao manuscrito) chega a ser especulada. Mas se algum incrédulo sobreviveu nesses 200 anos, perdeu a última esperança em 2013. Nesse ano foi leiloado por 477.422 euros (1,9 milhão de reais) um exemplar da primeira edição dedicada a Lord Byron “pelo autor”. A letra foi autentificada como a de Mary W. Shelley.
Na segunda edição de 1823 (de tiragem semelhante à anterior), a escritora se identifica. Em apenas três anos são feitas 10 adaptações teatrais diferentes, incluindo finais paródicos sobre a morte da criatura, que irá se afastando-se de seu cultivado espírito original – lia Plutarco, Milton e Goethe – para transformar-se no imaginário coletivo em um monstro de parafuso na cabeça e um tanto bobalhão. A obra se emancipa da autora. Seus leitores encontram em Frankenstein o que precisam: terror gótico, antecipação da ficção científica e um dilema ético sobre os limites da ciência.
No dia de Halloween de 1831 é lançada uma terceira edição de 4.020 exemplares. A escritora introduz mudanças e cala os céticos: “Certamente, não devo ao meu marido a sugestão de nenhum episódio, nem sequer de um guia nas emoções e, entretanto, se não fosse por seu estímulo, essa história nunca teria adquirido o formato com o qual se apresentou ao mundo”. Assina sua introdução como M.W.S., mas a história da literatura prescindirá do sobrenome materno.
Mas somente rastreando suas origens familiares e as circunstâncias dos primeiros anos de sua vida pode-se responder à pergunta que tantas vezes fizeram a Mary W. Shelley: “Como é possível que eu, à época uma jovenzinha, pudesse conceber e desenvolver uma ideia tão horrorosa?”
Frankenstein. Mary W. Shelley. Edição de 1818, revisada e corrigida por Charles E. Robinson. Anotada para cientistas, inventores e curiosos em geral. Tradução de José C. Vales e Vicente Campos. Ariel, 2017. 344 páginas. 20,90 euros (83 reais)
EL PAÍS