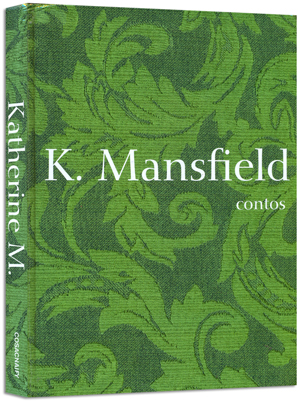O novo livro de Ricardo Goldenberg, Do amor louco e outros amores (Editora Instituto Langage, São Paulo, 2013), é uma grata surpresa no cenário de publicações psicanalíticas sobre o amor. Há algum tempo este tema vem sendo parasitado por uma glosa, mais ou menos repetitiva, sempre em tom sapiental, sobre como Lacan ou Freud, podem nos alumiar nas trevas líquidas e desencontradas que tomaram conta de nossa época em matéria de amor. A coisa caminha de tal forma que quando conseguimos dizer alguma coisa a mais, e ademais interessante, geralmente é para nos reconhecermos como parte da grande narrativa moderna, que é o romance. Os romances nos ensinam a amar, um pouco mais do que os manuais de arserotica e os guias de sexologia, e um tanto menos do que as palavras íntimas, cada vez mais raras, entre amigos, amantes e quejandos.
A novidade no livro é que ele resolve colocar as coisas pelo lado mais difícil, ou seja, pelo lado do amor, do desejo ou do gozo que o analista experimenta em sua aventura reversa que são as análises que ele conduz. Há pouquíssimos precedentes nesta matéria: Ferenczi de Diário Clínico, Theodore Reik deEscutando com o terceiro ouvido e mais recentemente Stephen Mitchell e a psicanálise relacional. A raridade se explica, em parte, pelo fato de que a tarefa exige altas doses de franqueza e honestidade para falar da experiência tal comoela se dá, para aquele que a narra e problematiza, mais do que de como eladeveria se dar, segundo aqueles que nos precederam e em acordo com ideias que cultivamos. Goldenberg tem esta vocação para a pahresia, a fala franca que os latinos exigiam daqueles que se dedicavam a cuidar da alma. Isso se combina com as oscilações entre alta e a baixa cultura, entre exegese talmúdica e Janis Joplin. Quiçá esta atitude tenha sido formada nos tempos dourados em que foihold da legendária banda de rock Emerson, Lake and Palmer, ou então nos anos de chumbo da psicanálise argentina engajada.
No famoso axioma lacaniano de que “a impossibilidade de sustentar autenticamente uma práxis se transforma no exercício de um poder, como é comum na história dos homens”, o termo que me parece mais problemático é este “autenticamente”. A autenticidade não é apenas um problema de boa vontade e disposição moral à transparência. A autenticidade é um problema formal de alta dignidade literária. Ou seja, Ricardo se coloca a questão de como falar de amor desta posição na qual faltam palavras. Posição difícil, pois se deixamos as palavras virem, espontaneamente, como na análise, faremos romance, conto ou autobiografia e se as levamos a sério demais entramos na prosa deontológica, moral ou universitária. Resta a carta. A carta como tensão entre forma e conteúdo, entre ato e discurso. Restância. Por isso, coerentemente, o livro é composto por uma série de quase-cartas: de um homem para as mulheres, de analista para analisante, de analisante para analista, de um homem para uma mulher.
A solução encontrada para imiscuir desequilíbrios formais com desenvolvimento de teses, envolve uma inteligente combinação entre certos experimentos formais e elevada agilidade frasística e aforismática que vão compondo a casuística das cartas. O livro é um verdadeiro experimento diagramático conduzido por este, antes chamado de enfant terrible da psicanálise paulista. Senão vejamos. A introdução é impressa em páginas negras com letras em branco. Seguem-se dois intrólitos: um em alinhamento poemático, preto no branco, sobre o sultão Xeriar e Sherazade. Depois disso, em páginas azuis com tipos em branco, encontramos o pequeno e erudito excurso sobre a deserotização calculada pelo cristianismo do pequeno tratado bíblico sobre o amor, o “O cântico dos cânticos”.
O primeiro introduz, em estilo ligeiro, a oposição entre a obrigação de cumprir a masculinidade e o gozo contínuo, ilimitado e indiscreto do lado feminino. Aqui somos introduzidos à ideia de que os amores loucos são também os vividos pelas almas impuras, as únicas realmente dotadas de existência. O segundo ensaio recoloca no centro da interpretação do texto sagrado, a mulher e a carne como um tema político. Lido em nada menos do que 11 traduções, verifica-se que entre Salomão e Sulamita não se trata de sedução, o soberano “não foi enganado senão loucamente vencido pelo encanto de uma mulher”. Aqui começa a fazer comichão a ideia de que assim como a morte é o mestre absoluto, o amor produz o escravo absoluto.
Se o volume se abre com a paginação em preto no branco, seguido pelo branco no azul, ele se fecha, de forma quase simétrica, com outros dois pequenos estudos sobre Lolita, de Nabocov e sobre A hora e a vez de Augusto Matraga. Os quatro pequenos estudos sobre a literatura de amor, mais as duas cartas, que abrem e fecham o livro, incursionam por um modo de apropriação da literatura que não a coloca em situação subalterna. Essa inversão, quase simétrica, da forma impressa e concreta do texto, combina-se com titulações dispostas de modo contra-intuitivo, alterações do tipo de letra usada para grafar cartas, citações, diálogos interpostos e conceitos. Sem falar nas desafiadoramente longas notas de rodapé, em minúsculas letras incomiseráveis, onde encontramos, à custa de infinita perseverança ocular, a chave inesperada do texto, ou aquela enunciação fundamental que o esclarece. Justa lembrança de que o tão badalado conceito lacaniano de letra (lettre, l´etre), ou de carta de amor (lettre d´amour) se antecipa nos experimentos formais de Mallarmé e Pound antes de se consagrar na caligrafia oriental. Ponto para a renovação concretista da psicanálise brasileira. O formalismo de Lacan seria, neste ponto, mais propedêutico do que propriamente substancial. Dele Ricardo relembra preceitos de método, há muito esquecidos, sempre em nome do último Lacan: textos não são casos, personagens não são pacientes, analistas não são críticos literários e o romance, escrito e fixado como um “eterno já acontecido”, não é “a vida ela mesma”.
A oposição entre as bordas feitas de branco no preto e o miolo do livro onde o amor é trabalhado preto no branco, é suplementada pela incrível carta de despedida ao analista, sensível e corajosa, e que fará qualquer analista tremer no juízo mais íntimo de seu ser quando pensa na ultima sessão de sua própria análise. A graça final: ela vem diagramada de modo quase ilegível, na formapreto no preto. A forma e a cor das cartas de amor não são indiferentes ao seu conteúdo.
Entre a abertura e o fechamento temos o cerne do livro. No inquieto e irreverente ensaio “Uma carta de amor”, o autor prescreve que sua leitura seráintensificada, se nos fizermos acompanhar da audição de Miles Davis, Leonard Cohen e Winton Marsalis (segui à risca, sem arrependimento). O conteúdo é uma anatomia crítica da moral psicanalítica. Uma renovação impiedosa do Freud deMoral sexual civilizada e doença nervosa moderna, mas agora incluindo a psicanálise como parte do problema e sem o final otimista. Parafraseando o problema central: “análise boa é análise que continua”, fora disso é o fracasso. É como se estivéssemos em uma nova forma de patologia que concede ao amor infinito todas as forças. E na beatitude do final de análise, bem questionada pela experiência, o antídoto para este mal, bem ilustrado pelo caso deste paciente cuja única dedicação na vida é amar sua Dama. Contra essa espécie de doença incurável a psicanálise acabou acreditando demais em sua própria mitologia maquínica, de que o amor é uma repetição, e que uma boa análise acrescentaria a isso um: “Edição revisada pelo autor”.
Conveniência teórica ou álibi para o amor que causamos em transferência? Onde estariam então os amores não regressivos, mais além da neurose, que dariam corpo à promessa lacaniana de um Novo amor?
Neste clima de “inversão completa de valores” Ricardo escava os meandros dos impasses transferenciais que levaram à teoria da transferência como forma de amar. Ele mostra como o imbróglio de Freud com Ferenczi, Jung, Jones e Abraham exigia uma conceitualização que, de certa maneira, devia estar à frente da própria experiência. Disso avançamos para a situação real de amor erotizado sob transferência. Amor que apavorou Breuer. Amor que deu luz ao mito fundador da transferência. Amor que teria levado à formulação da regra da abstinência e o seu corolário psicanalítico das almas penadas, errante e puras. Abstinência paradoxal se cotejamos o que seria a suposta falsa satisfação com o metro de platina, guardado em algum recanto suíço, onde estaria o verdadeiro padrão ouro da satisfação da pulsão do amor. Nem falso no sentido de contrário ao verdadeiro, nem ideal na acepção de contrário ao real, seria preciso pensar o novo amor lacaniano, como novo e inédito. Isso significa ir bem mais além de sua forja corrente no molde da indiferença, na decepção, na frustração hipócrita ou empobrecida imposta pela moral dietética de nossa época em matéria de amor (não falamos em gozo). Responda o analista à demanda ou não, se é que isso é possível.
Exemplo perfeito: Elfriede Hirschfeld, o sexto, e até pouco tempo inédito, caso clínico escrito por Freud, abandona a análise justamente quando ele “está pronto a lhe dizer a última palavra sobre a sua doença”. Uma palavra que seria “o substituto do amor que ela espera dele”. Só assim poderíamos saber se a psicanálise é de fato uma erótica, uma ars amatória, e não apenas uma ars consolatória, para nossos pacientes.
“Até Lacan fazer do analista um desejante na década de setenta, ele era tido um homem sem desejo. Mais tarde o anátema caiu sobre seu gozo, e este último não seria levantado. [...] Defendo então um psicanalista qualificado e profissional, que também seja um diletante e um amador da psicanálise.” (p.88)
Concordo amplamente. Sempre desconfiei dos psicanalistas profissionais, prefiro os amadores. Aqueles cuja única promessa é a de que um dia poderemos nos separar deste amor que virá. No contexto destas ligações perigosas aparece então uma psicanálise com menos ideais de pureza e purificação. Para ela, um analista que tenha por condição de autenticação sua capacidade de amar. Afinal, este era o único critério decente de normalidade que encontramos em Freud (além de trabalhar). Aqui reencontramos a tese destilada nos ensaios mais literários do livro. O amor nos rende. Aquele que quer ser o soberano e supremo senhor do amor, que jamais se deixa cair e que imagina-se imune à queda (fall in love, tomberamoureux) no fundo é alguém que perdeu sua capacidade de amar, alguém que está curado de sua transferência, mas também de sua loucura, e com ela de sua humanidade. Esse tipo de psicanalista não corresponde à bela alma hegeliana, mas à alma pura que jamais se deixa cair como objeto, nem cair em luto, com a última sessão de um analisante.
O livro-carta enviado por Ricardo é um mergulho nas águas profundas cheias de moreias e corais, um livro no qual está o fôlego e o sangue frio, necessário para as grandes perguntas, e para os grandes amores, não sem uma pitada de histeria.
***
Confira a aula Žižek e a psicanálise de
Christian Dunker ministrada no “Curso de introdução à obra de Slavoj Žižek” do Seminário Internacional Marx: a criação destruidora, que trouxe, entre outros, David Harvey e o filósofo esloveno ao Brasil.
***
Christian Ingo Lenz Dunker é psicanalista, professor Livre-Docente do Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo (USP), Analista Membro de Escola (A.M.E.) do Fórum do Campo Lacaniano, fundador do Laboratório de Teoria Social, Filosofia e Psicanálise da USP, autor de Estrutura e Constituição da Clínica Psicanalítica (AnnaBlume, 2011) vencedor do prêmio Jabuti de melhor livro em Psicologia e Psicanálise em 2012. Desde 2008 coordena, junto com Vladimir Safatle e Nelson da Silva Junior, o projeto de pesquisa Patologias do Social: crítica da razão diagnóstica em psicanálise. Colabora com o Blog da Boitempo mensalmente, às quartas.