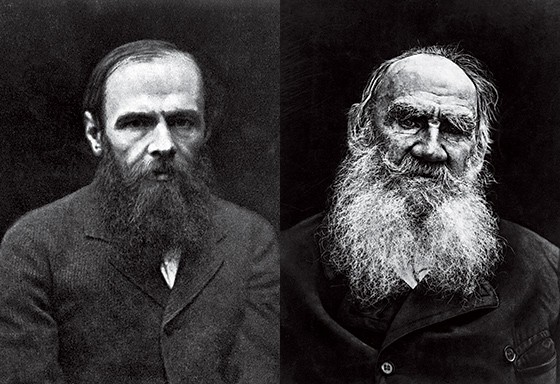Conduta, com C de Cuba
Há décadas nenhum filme nacional era tão popular e provocava tantas opiniões
YOANI SÁNCHEZ
Havana 30 SET 2015 - 11:15 COT
Miguel ganhou muito dinheiro nessa semana. Conseguiu vender quase uma centena de cópias piratas do filme cubano Numa escola de Havana (Conducta, no original). Mesmo com o filme sendo exibido em vários cinemas do país, muitos preferem vê-lo em casa entre amigos e familiares. A história de um garoto de apelido Chala e de sua professora Carmela causa furor e longas filas do lado de fora das salas de exibição. Há décadas nenhuma produção nacional era tão popular e provocava tantas opiniões.
Por que a última obra do diretor Ernesto Daranas está se transformando em um fenômeno social? A resposta vai além das questões artísticas para entrar na força de seu drama. Apesar de contar com uma excelente fotografia e um magnífico trabalho de interpretação dos atores, é o realismo de seu roteiro a mais acabada conquista dessa produção. O filme gera uma empatia imediata com o público, ao refletir suas vidas como se fosse um espelho.
Nas salas escuras e diante da tela, os espectadores aplaudem, gritam e choram. Os momentos de maior emoção na plateia coincidem com os diálogos politicamente mais críticos. “Não estou há mais tempo do que aqueles que nos governam”, responde a professora Carmela quando querem aposentá-la porque está “há muito tempo” no magistério e uma ovação de apoio percorre a sala de cinema nesse instante. A penumbra exacerba o atrevimento e a cumplicidade.
O fenômeno Numa Escola de Havana se explica por sua capacidade de refletir a existência de muitos cubanos. Mas vai além de um simples retrato realista, para se transformar em uma radiografia que toca o âmago do assunto. Uma Cubaonde mal restam preceitos morais para um garoto a anos-luz desse entorno ideal para a infância narrado pela imprensa oficial. Com apenas 11 anos, Chala mantém sua mãe alcoólatra com o que ganha em brigas ilegais de cachorros, mora em uma cidade bruta, injusta, empobrecida até não mais poder.
Uma Cuba onde mal restam preceitos morais para um garoto a anos-luz desse entorno ideal para a infância narrado pela imprensa oficial"
Não é a primeira vez que o cinema cubano mostra o lado duro da realidade. O filme Morango e chocolate(1993) definiu pautas em relação à crítica social, especialmente a discriminação contra homossexuais e a censura artística. O custo de seu atrevimento foi alto, pois demorou 20 anos para ser transmitido pela televisão nacional. O filme Alicia en el pueblo de Maravillas (1991) teve pior sorte, a polícia política encheu as salas de exibição com militantes do partido que lançavam insultos à tela. Numa escola de Havana chegou em uma conjuntura diferente.
A extensão das novas tecnologias permitiu que muitos realizadores de audiovisual finalizassem seus projetos. Roteiros críticos, mordazes e contestadores apareceram nos últimos cinco anos por não precisarem da aprovação e dos recursos do Instituto Cubano de Arte e Indústria Cinematográficas (ICAIC). Essa proliferação de curtas, documentários e filmes independentes foi uma conjuntura muito favorável para o filme de Ernesto Daranas. Os censores sabem que não vale a pena vetar esse tipo de filme nos circuitos estatais. As redes ilegais o teriam propagado como se fosse pólvora.
Não é a primeira vez que o cinema cubano mostra o lado duro da realidade, mas este filme chega em um momento diferente"
Uma breve conversa do lado de fora do cinema Yara evidencia a polêmica desatada pela história. “Existem muitas pessoas que vivem melhor do que Chala, é verdade, mas existem outros que vivem muito pior”, afirma um senhor por volta dos 60 anos. Uma jovem responde que se pergunta se o diretor não “exagerou na sordidez das situações narradas”. Outra moça também entra no debate para esclarecer “Você diz isso porque mora em Miramar, onde essas coisas não acontecem”.
Na noite de terça-feira, o jornalista oficial Randy Alonso também estava na fila do cinema para assistir ao filme na última sessão do dia. Atrás dele se escutavam risadinhas e frases como “O que ele está fazendo aqui?”, uma vez que seu rosto é associado a um jornalismo acrítico e adulador do poder. Já dentro da sala de cinema, aqueles que se sentaram perto de Randy não o viram participar do coro de gritos de apoio. Parecia afundar no assento a cada minuto que se passava, querendo passar desapercebido. O que ele via na tela era justamente o contrário do que explica em seu entediante programa Mesa Redonda.
Isso é Numa Escola de Havana, capaz de reunir em uma mesma sala os fabricantes do mito e os oprimidos pelo mito. Quando o projetor for desligado, as portas serão abertas e os espectadores sairão a uma realidade semelhante à do roteiro, mas onde já não poderão se manifestar sob a proteção da penumbra. Chala os aguarda em qualquer esquina.