A importância de se chamar Paul Smith
O estilista que melhor redefiniu a alfaiataria britânica abre as portas de seu mundo em uma exposição em Londres e percorre os momentos de sua vida: desde a origem humilde até o atual milionário ‘simples’

Paul Smith, no caos de seu ateliê, um gabinete com curiosidades, onde se amontoam suas peculiares coleções (de coelhos, câmeras 'vintage', velocímetros, robôs...). /JAMES MOONEY / JAMES MOONEY
Uma figura comprida se eleva entre moldes e operários. Com o cabelo emaranhado, óculos de tartaruga e um sorriso franco, Paul Smith (Nottingham, 1946) distribui instruções para a montagem final da exposição que até 22 de junho lhe dedica oDesign Museum de Londres. O sotaque ligeiramente cockney, que carrega desde os tempos de garoto humilde da província, não consegue disfarçar que estamos diante do homem que deu uma guinada de estilo no guarda-roupa masculino.
Hoje vende 3,5 milhões de peças de vestuário por ano e fatura 420 milhões de euros. Mas o importante neste exato momento não são os números, mas que cada detalhe de seu mundo fique refletido em um espaço museológico muito restrito para sua longa trajetória. Pouco importa. “Isto não pretende ser uma retrospectiva, mas um convite a se contagiar de criatividade”, diz, efervescente.
Ele mesmo pega o teu casaco, o coloca em um local protegido e age como guia improvisado. Fala bem de perto, toca o interlocutor todo o tempo e ri abertamente. “Aqui é onde tudo começou.” O pequeno espaço que recebe o visitante recria sua primeira loja em Nottingham. Ele a abriu em 1970, aos 24 anos. Ocupava só 12 metros quadrados. “O gerente era o meu cachorro, Homer.” A foto de um folheto –do jovem Smith dançando com um galgo afegão– comprova. “Meu objetivo é que os jovens, sobretudo, venham e vejam que se pode fazer as coisas com modéstia. Hoje, muitos querem que tudo vá muito depressa: pedem dinheiro emprestado, se vendem a grupos empresariais... Pensam que isto se baseia em fazer muitos contatos e se deixar ver, e não dedicam o tempo necessário a aprender como se constroem as coisas.”

O próprio Paul Smith, aficcionado por fotografia, tira as fotos de suas campanhas. Aqui, uma de 2013.
Diz que o simples sempre é mais eficaz do que o artificial. Até o título de sua mostra, Hello, my name is Paul Smith, referenda sua filosofia. Uma pequena piada sobre o duelo imaginário que trava com outro Paul, Klee, a quem a Tate dedica uma retrospectiva a cerca de cem metros dali, nos leva até outra de suas insígnias. O pintor expressionista escreveu: “Descobri o compromisso com a cor em uma viagem a Túnis”. Smith, que se declara alérgico “à arrogância que rodeia muitos artistas”, reconhece, porém, que deve isso a Pauline Denyer, sua mulher e cúmplice há 46 anos. Ela rompeu sua casca. “Era desenhista por formação e um pouco mais velha que eu (seis anos). Tinha estudado História da Arte e pintava. Dotou minhas ideias de sofisticação. Foi quem me ensinou a mesclar as cores de modo eficaz.”
Hoje, embora ela tenha deixado de atuar como partenaire na sombra em meados dos 80 para se dedicar à pintura, “continua sendo minha mentora”.
Ele passava pelo criativo. Queria ser ciclista profissional. Abandonou os estudos aos 15 anos, e seu pai, vendedor domiciliar, o colocou como atendente na loja de roupas de um amigo “onde imperava o funcional, o conceito ‘moda’ não existia. Saí da escola numa sexta-feira e já estava trabalhando na segunda. Não tive um só dia livre em minha vida”, gargalha. Em seus momentos livres voava pelas ruas da cidade em bicicleta. Até que seu sonho se desfez. Espatifou-se, com 17 anos, contra um carro. Ainda hoje desponta em seu nariz a cicatriz, orgulhosa. Quebrou também vários ossos. Ficou seis meses no hospital. Ali fez amizade com outros internos que estavam envolvidos na cena artística local. Aos 18 se ofereceu para colaborar com uma amiga em uma butique. Aos 21 conheceu Pauline em um pub. Aos poucos ela foi viver com ele e levou os dois filhos de um casamento anterior (não tiveram filhos próprios). Quando montaram a loja, só abriam às sextas e sábados. No resto do tempo trabalhavam no que aparecia.
O estilista recorda que houve momentos em que tudo parecia caminhar para o desastre total. “Quando fomos a Paris vender pela primeira vez a coleção, improvisamos um showroom por quatro dias no quarto de um hotel modesto. E não apareceu ninguém até a última tarde. Pelo menos, o único comprador que apareceu se transformou em um de nossos clientes mais fiéis.” Como lembrança, a exposição recria também esse quarto de hotel, entre um espaço com projeções em tela plana intitulado Inside Paul’s head, que pretende representar seu processo criativo de associação de ideias, e outro que imita seu estúdio londrino.
Começou com trajes masculinos de tweed tradicional em cores que fugiam da norma. Seu objetivo: fazer “roupa sem classes”. Ele também descreveu seu estilo como “um choque entre Saville Row e Mister Bean”. Possivelmente, essa alergia a intelectualizar e analisar demais o sentido de suas criações – uma síndrome mais difundida do que deveria na moda – seja um dos pilares de seu sucesso. Foi o primeiro a esgrimir, já na arrancada dos 80, o classic with a twist que afasta o bem-vestir do elitismo. A jaqueta azul que usa hoje, que oculta um vistoso forro adamascado, as calças ligeiramente justas que realçam ainda mais seu um metro e noventa, e os sapatos marrons, de amarrar, combinando com um cinto de fivela servem de tradução literal. “Eu sou meu melhor anúncio... E sou grátis”, ri.
Por mais que se negue a contratar estrelas para suas campanhas ou sentá-las nas primeiras fileiras de seus desfiles, fez alguns bons amigos famosos: Eric Clapton, Daniel Day-Lewis, Colin Firth, Jamie Oliver, Gary Oldman. Até o próprio David Bowie é cliente. Dos que pagam. Também ganhou fãs fieis entre as mulheres (apesar de não ter feito roupa para mulheres até 1994). Patti Smith, a primeira. Conheceram-se em um voo de Barcelona a Paris em 1978: ela o presenteou com uma bolsa bordada com as siglas que os dois compartilham e um boneco dentro. E com frequência toma café com o escritor Hanif Kureishi. “Por mais que me custe, por minha dislexia, tive que ler todos os seus livros, senão me dá bronca.”

Paul Smith abriu sua primeira loja em 1970, com 24 anos, em sua Nottingham natal. Tinha apenas 12 metros quadrados.
Vestiram seus trajes tanto Tony Blair como David Cameron. Talvez o dia em que se converteu oficialmente em um emblema nacional tenha sido aquele em que os príncipes Charles e Diana tiraram suas fotos oficiais de noivado em camisas azuis de Paul Smith. Anos depois, em 2000, a própria rainha Elizabeth lembraria disso, quando o nomeou cavaleiro. “Ela me disse: ‘Em boa hora por suas conquistas como exportador’”.
Seu peculiar sentido de humor foi reforçado ao se instalar em Londres em 1979. Diante da capitalização do punk, oferecia alternativas aos clones de Bryan Ferry e ofertava inesperados objetos contemporâneos (de calculadoras Braun até os primeiros aspiradores de pó Dyson) para completar a experiência de construir um estilo próprio. Hoje fez de suas mais de 350 lojas próprias distribuídas pelo mundo autênticos bazares. Somente no Japão tem 265, É seu principal mercado. Continua cultivando-o desde que viajou para lá em meados dos 80. Apesar de ter vendido 40% de sua empresa ao grupo japonês Itochu (ele mantém os outros 60%), permanece independente. “São sócios passivos, não interferem no processo criativo nem em nada”, esclarece.
E explica um de seus segredos para não ter dependido de ninguém mais do que de si mesmo: “Reinvestir os rendimentos na própria empresa. Tenho algumas outras obras de arte, uma preciosa casa na Itália (perto de Lucca, na Toscana), outra em Londres, móveis fantásticos... Mas nunca precisei de um jato privado ou um chofer à minha disposição. Às vezes vou trabalhar de bicicleta e dirijo um Mini”. Esses esforços para sepultar o milionário caprichoso se contradizem se recordamos que, quando começou a juntar sua fortuna atuando como consultor para outras empresas, teve vários veículos Porsche 911. “Isso foi meramente funcional”, refuta. “Nessa época ainda vivia em Nottingham e tinha de vir três vezes por semana a Londres. Tive um acidente com meu utilitário e um amigo me ofereceu um Porsche nessa mesma tarde. E eu me viciei. Precisava de um veículo rápido porque, do contrário, essas viagens se tornavam eternas, sabe?”.
Hoje, sua simplicidade se resume a uma rotina que começa às 5 da manhã. Mergulha na piscina do Royal Automobile Club (ou na do Park Hyatt, se estiver em Tóquio, para onde viaja, no mínimo, duas vezes por ano). Às 6 está no escritório (“com as mulheres da limpeza”) e escuta música a todo volume até as 8 (na manhã de nosso encontro, os Talking Heads, “em vinil”), envolvido em seu caos particular. Ele mesmo recria um dos cantos da exposição, para onde deslocou parte de sua coleção de objetos que inundam seu ateliê, desde o primeiro iMac, presente de Jonathan Ive (vice-presidente executivo de design da Apple), que nunca chegou a ligar porque não usa computadores, até suas câmeras de fotos vintage. Entre elas está sua particular Rosebud, a Rolleiflex que seu pai, fotógrafo amador, comprou em 1958. Com ela captou o filho Smith aos 10 anos voando em uma fotomontagem sobre uma almofada. Não podia imaginar então que essa viagem mágica duraria toda a vida.

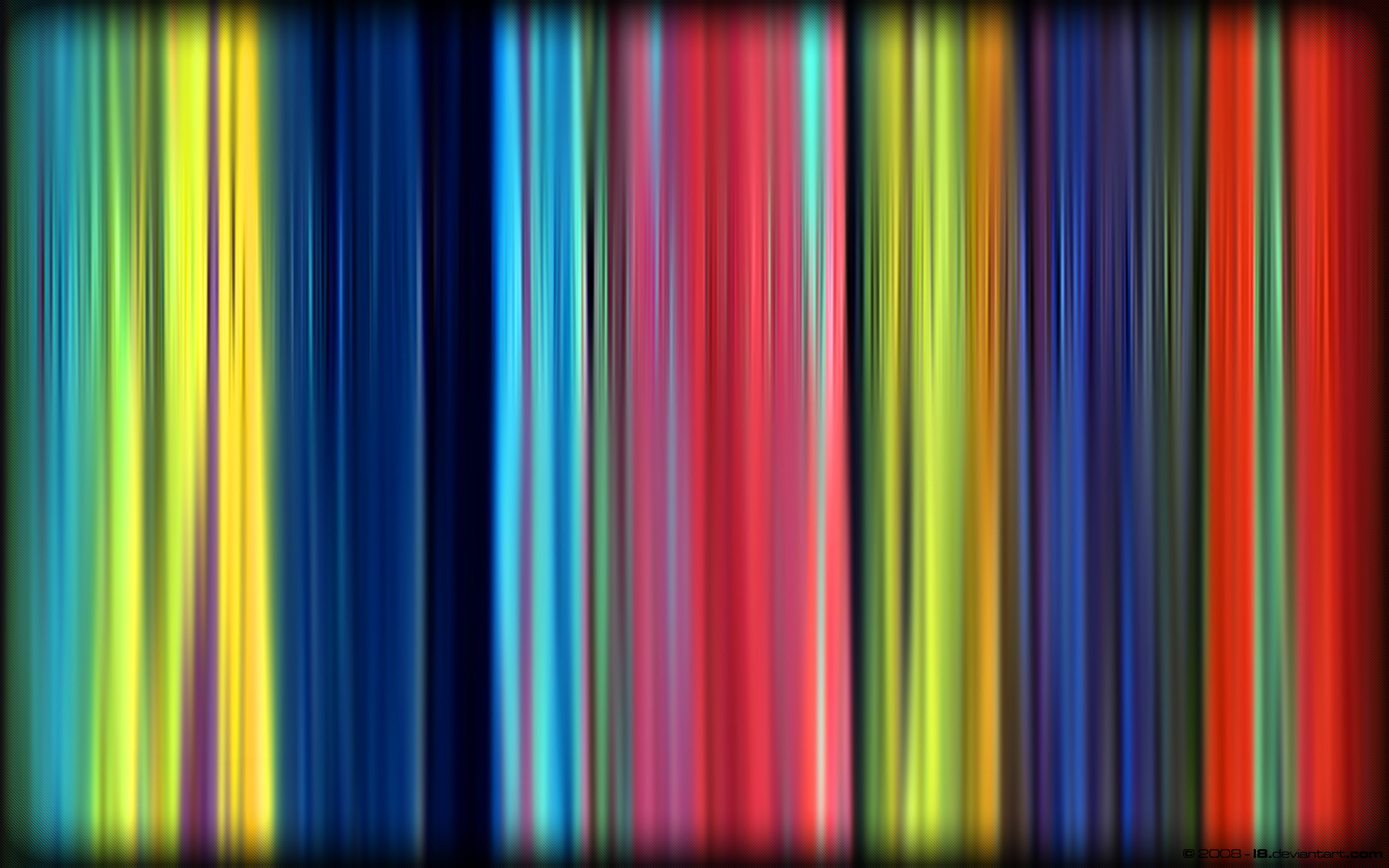



















Nenhum comentário:
Postar um comentário